1 – O ano de 2014
parece vir a ser um ano de encruzilhadas, de início de recomposições de
poderes, indiciários de possíveis explosões sociais de envergadura, mas também
de tentativas de imposição de poderes ditatoriais do grande capital num sentido
cada vez mais alargado no espaço planetário.
Os poderes, que eram
e, em parte ainda o são, podem estar a ficar para trás, presos nas cadeias da
História.
A imagem e a argamassa, que se construíram as instituições e os jogos de forças ao longo das últimas dezenas de anos, logo após a segunda
grande guerra, com a ascensão meteórica da política hegemónica contínua dos
Estados Unidos, principalmente depois do seu aparecimento na cena mundial com o
triunfo da bomba atómica, e, posteriormente, do incremento da alta tecnologia,
com a entrada na conquista do espaço e da evolução rapidíssima dos mísseis
intercontinentais, e, acima de tudo, o seu domínio económico global, com a
primazia do petrodólar, como moeda universal de troca na produção, distribuição
e comercialização das riquezas ligadas ao petróleo e gás, pareciam apresentar
uma auréola de sucesso sem fim.
Numa competição
vencedora face ao capitalismo de Estado, matizado de falso socialismo, que teve a
sua “entronização” como vanguarda de progresso, mas, na realidade,
anti-materialista, primeiro, na antiga União Soviética, depois na República
Popular da China.
A hegemonia norte-americana
conquistada, de maneira evidente, na segunda metade do século XX, com uma
actividade sem contestação de imposição e sem escrúpulos de violência e de
terra queimada, sustentada em defesa de argumentos, sem qualquer discussão,
como polícia mundial, em torno de umas pretensas e abstractas democracia e
liberdade, que, aparentemente, não teria escolhos ou travões, tinha, mais cedo
ou mais tarde, de colapsar.
E o marco divisório dessa
realidade, que ganhou evidência, deu-se com a crise – financeira e económica -
de 2008.

2 – Na realidade, os
vencedores da II Grande Guerra Mundial aproveitaram o facto de ter havido uma
carnificina planetária, que custou mais de 50 milhões de vidas, por um lado, na
antiga União Soviética, a principal visada desde o início, por outro, na
Alemanha e Itália, fomentadores do conflito, e, em países contíguos, cujos
dirigentes se colocaram ao lado das potências nazi-fascistas da altura, como a
Roménia, Hungria e Bulgária , juntaram-se, numa aliança provisória de divisão
de despojos, que começou em Ialta, não para cooperarem, mas para repartirem,
arbitrariamente, os territórios, primeiro, europeus, depois os circundantes e
coloniais, em zonas de influência.
Assim aconteceu, da
parte da ex-URSS, com os países que vieram a fazer parte do COMECOM e do Pacto
de Varsóvia, e, da parte dos Estados Unidos, que forçaram o alinhamento de
protectorado no chamado mundo ocidental, através da NATO e do Plano Marshall,
e, em escala mais diluída, com a OCDE.
(Dividiram mesmo, por
essas razões, a própria Alemanha).
Aparentemente, não se
pode afirmar, de forma taxativa, que tal divisão, pós II Guerra, sucedeu, com
violência, pois houve um assentimento tácito inicial dos próprios povos a essa
repartição.
A fase seguinte, essa
sim, a sua prática, do lado dos vencedores, esteve encharcada na na mão de
ferro e no peso da violência.
Todavia, da parte da
antiga União Soviética, até porque lhe faltavam os investimentos financeiros
necessários e uma estrutura industrial e agro-industrial avançada, pois a destruição da sua capacidade produtiva no seu espaço
territorial para reconstrução teve, já nos anos 50 do século XX, uma maior
extensão e profundidade, que levou a espezinhar, desde logo, sem qualquer
rebuço, os sentimentos nacionais, a pretexto de ter havido um colaboracionismo
acentuado das suas classes dirigentes e intermédias com o regime de Adolf
Hitler.
E criou, deste modo,
uma tensão crescente em Estados como a Jugoslávia, logo em 1947, porque se
libertou do nazi-fascismo, praticamente, sem apoios exteriores e a Hungria em
1956, com uma revolta generalizada, sufocado com a intervenção directa militar
da URSS.
Os Estados Unidos da
América foram os grandes beneficiários da II Grande Guerra, nela entrando na
sua fase final, quando o regime nazi já estava em retrocesso, e, em fase de
agonia.
No
período de 1939 a 1942, juntamente com o Canadá, incrementaram a sua
industrialização, em especial a indústria pesada, e a exploração de riquezas
minerais.
Na
realidade, duplicaram a capacidade industrial dos dois países, e, os Estados
Unidos fomentaram, grandemente, o investimento, abrigados de toda a destruição
que atingiram os países, verdadeiramente, empenhados em conter o avanço
nazi-fascista imperial (alemão, italiano e japonês).
Os
norte-americanos apenas começaram a fornecer material bélico e produtivo aos
países europeus, em guerra contra os nazis hitlerianos e fascistas
mussilinianos, já ia dentro o ano de 1941, mas num processo de chamado de
Lend-lease Act ( Lei de empréstimo e arrendamento), o que pressupunha
pagamentos com juros.
Procuraram, acima de
tudo, balizar, a partir de meados de 1943, altura em que desembarcaram na
Sicília, uma “zona de influência” político-militar na parte ocidental da
Europa, em especial França, Espanha, Itália e Inglaterra, e, se possível, o que
conseguiram, na própria Alemanha.
Os Estados Unidos
forçaram os Estados, que ficaram sob o seu controlo económico-financeiro,
através do Plano Marshall, a constituir governos da sua confiança, a partir de
1949, organizando, ao mesmo tempo, uma parceria militar, a NATO, que dominaram,
totalmente, enxameando a chamada Europa ocidental de bases castrenses e corpos
de Exército de verdadeira ocupação, como na Alemanha Ocidental, Itália,
Bélgica, Inglaterra, Espanha e Portugal.
O incremento
desmesurado militar dos Estados Unidos, aliado à sua caminhada crescente para a
supremacia nas relações financeiras internacionais, começou a dominar, paulatina e em alargamento
extensivo a outros países, as relações comerciais e o avassalamento dos grandes
bancos, da actividade bolsista, e de uma parte significativa da
produção/comercialização/distribuição de matérias-primas, com especial destaque
o petróleo e o gás.
Ao mesmo tempo e
impondo o dólar, como a moeda de troca padrão incontornável de todas as
actividades, comercial e financeira, internacionais, impossibilitaram, nos
países mais avançados, qualquer alternativa de poder independente, pois as
burguesias nacionais foram subservientes e as classes trabalhadoras a lutarem
sem programas revolucionários.
Intervieram
abertamente em territórios que se desejavam emancipar das tutelas coloniais, em
Estados que aspiravam, pura e simplesmente à sua independência, dividiram e
espezinharam, inclusive, parte da Europa, já depois de destruição da antiga
URSS, motivo principal do seu apego propagandístico em defesa da democracia em
luta contra o comunismo.
A sua arrogância de
supremacia do seu sistema que consideravam perfeito e indestrutível, como
modelo a seguir em todo o mundo, valia mais, muito mais, que as aspirações dos
povos a sua própria soberania, ao seu caminho independente.
Intitulavam-se
libertadores, mas massacravam e humilhavam.
O rol passa pelo
Vietname, Cambodja e Laos, passa por toda a América Latina, desde Cuba à
Nicarágua, incluindo as ditaduras chilena, brasileira, argentina, uruguaia,
paraguaia, peruana, boliviana, venezuelana e colombiana.
Extravasando mais
recentemente para a Europa do sul com a destruição programada da Jugoslávia e a
transformação da Albânia e o Kosovo em Estados de narcotráfico, controlados
pelos serviços secretos norte-americanos. E reduzindo a escombros o Iraque, o
Afeganistão e a Líbia.
Todavia, esta
actividade criminosa, embrulhada em falsa democracia, está a acabar.
Tinha de acabar.

3 - A violência de
Estado pode ser um acto de prática selvagem ou de próprio ordenamento social,
mas é, acima de tudo, um produto económico.
Logo, custa dinheiro.
Baseando-nos em dados
do Instituto Internacional para a Investigação da Paz (SIPRI, em inglês), com
sede em Estocolmo, no ano passado, os EUA gastaram cerca de 682 mil milhões de
dólares em despesas militares, o que representa perto de 40% de todas as
despesas castrenses dos restantes países da Terra.
As despesas militares
norte-americanas aumentaram cerca de 68%, desde que foram organizados os
atentados de 11 de Setembro em Nova Iorque e Washington a 11 de Setembro de
2001.
Embora uma parte
destas despesas possa trazer benefícios em exportação armamentista, a maioria
faz parte de uma actividade improdutiva para a economia, que conduziu ao
reforço interno do militarismo, com a componente imperialista, que, ao longo
dos últimos 50 anos, se foi transformando em objectivo central de toda a
actividade estatal norte-americana.
Ora, em termos de
economia política, tal orientação, seja qual for o Estado, contribui para a sua
decadência e, provavelmente, a prosseguir o mesmo rumo, para a sua destruição.
/De maneira evidente,
desde 2001, os EUA mostraram ao Mundo que a sua imposição imperial através das
suas Forças Armadas constituiu a finalidade central da sua acção como Estado.
De certo modo, esta
política foi um “tubarão” feroz da sua penúria económica e financeira, e, em
grande medida, a razão da sua entrada em plano inclinado no domínio da cena
internacional/.
Porque todo o processo
de incremento militarista norte-americano, deu-se, concomitantemente, com um
progressivo empobrecimento da economia interna dos Estados Unidos, e, uma
avassaladora dominância do grande capital financeiro centrado em Wall Street,
com ramificações interligadas, na City londrina.
Este capital, cada vez
mais concentrado numa fracção da grande burguesia, em particular a sua face
lumpem, estendeu as suas “garras” ao sistema financeiro de cada Estado, às suas
bolsas, às suas riquezas minerais, às suas grandes redes de transporte
transnacionais, às suas grandes propriedades agrícolas e produções
agro-industriais.
Este domínio da lúmpen
grande burguesia afastava-se cada vez mais da produção industrial dos Estados
Unidos, produzia retrocesso interno: falência de Estados e grandes cidades,
desemprego, abaixamento contínuo dos salários, cortes no papel social do Estado.
Consequentemente,
alargou fissuras no seu poder real internacional, que levou países e grupos de
países a entrar na sua própria corrida armamentista, mas também a procurar
“parcerias alargadas” de alternativas de intercâmbio monetário, trocas
comerciais e inclusive, na formação de polos de Estados com a economia interligada
(a UE é o caso de sucesso, mas estão forjando-se outros como o MERCOSUR, e,
essencialmente, a composição de uniões monetárias, como os BRICS e o grupo de
Xangai – este com uma certa componente militar – para facilitar as trocas
comerciais entre si, sem passar pelo padrão dólar).
/Vejamos o incremento
das despesas militares de todos os países, incluindo os EUA, segundo o
relatório do SIPRI de 2013 - 1.756.000.000.000,00 : um total de despesas maior
do que em qualquer ano desde o fim da II Grande Guerra e o ano de 2010/.

4 – A paralisação
parcial de toda a Administração norte-americana, incluindo o seu governo, na
segunda metade deste ano, trouxe uma grande machadada na confiança já abalada
do dólar como moeda de referência.
Mas, isso não é o mais saliente no conjunto das relações comerciais e económicas mundiais, o que
relevou esse aspecto visível do “icebergue” que está a ferir a estrutura
política, social e militar norte-americana é que a crise aberta naquele país
com a falência do seu sistema financeiro, em 2008, e passados cinco anos, não dá mostras
de um controlo.
Pelo contrário,
aprofunda-se continuamente, e, abriu, definitivamente, a caixa de Pandora que
está a fazer em estilhaços toda a estrutura montada na geopolítica dos últimos
30 anos.
Os “remédios”
receitados pelo sistema financeiro internacional, centrado nos organismos de
Washington, o FMI e o Banco Mundial, com as chamadas “medidas de austeridade”,
que levaram os povos ao empobrecimento em todo o globo, podem trazer no bojo
nos próximos tempos as tempestades revitalizadoras de uma, ou várias explosões
sociais, daqueles que consideram que o caminho percorrido tem de ser invertido.
Já não há lugar para
recuo, quando muito uma travagem brusca, momentânea, para fazer avançar o
comboio da humanidade noutro sentido.
Os Estados Unidos, como
motor da economia mundial, já foi chão que deu uvas.
Em Outubro, os seus
departamentos estatais divulgavam, oficialmente, que a sua dívida pública
atingia então os 16,699 biliões de dólares.
E esta dívida tem
vindo sempre a crescer, impulsionada artificialmente por emissão de dólares sem
correspondência real com o desenvolvimento económico.
São "papéis" que o
Estado emite em títulos, comprados pelo Banco Central – a Reserve Federal – depois
de serem adquiridos pelos principais bancos que receberem empréstimos
constantes do mesmo Estado a juros quase zero.
Somente, portanto, o
sistema financeiro tem sido beneficiado com o crescimento da dívida.
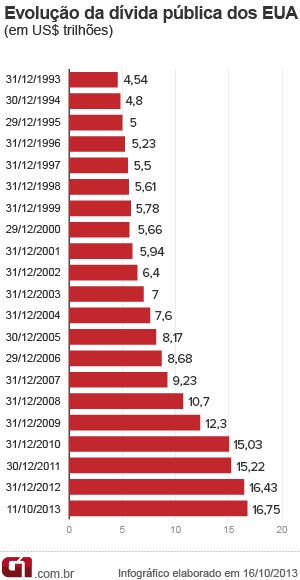
Retirado do jornal O Globo
Como se pode verificar
o grande salto na dívida inicia-se em 2001.
Como hoje é, consensualmente,
admitido nos Estados Unidos – e em todos os países, que acefalamente seguiram
Washington, e os ditames de Wall Street -, os beneficiários do reembolso da
dívida pública norte-americana são os grandes bancos norte-americanos.
O endividamento público
norte-americano, nitidamente em crescendo nos últimos 10 anos, está, neste
período, directamente relacionado com dois aspectos da política da classe
dominante: o financiamento, com dinheiro dos contribuintes, sem limites, dos
principais bancos e companhias de seguros, os verdadeiros fautores e
responsáveis conscientes da crise, a partir da falência fraudulenta do Lehman
Brothers e o investimento constante do complexo industrial militar.
Mas, como a voracidade
do grande capital, os seus representantes políticos no aparelho de Estado –
governo, Câmara de Representantes e Congresso e Reserva Federal – (curiosamente,
na sua esmagadora maioria ligados ao lobby judaico, quer pela sua origem, como
Ben Bernanke, o Presidente da FED, quer pela sua adesão ao mesmo, Barack Obama,
Hillary Clinton ou John McCain), têm de enquadrar orçamentos federais que possam alimentar a pretensão constante de lucro imediato.
Mas, naturalmente,
como necessitavam de mais dinheiro, lançaram uma campanha manipuladora,
sustentando que irão produzir mais dólares e bilhetes de Tesouro, para
estimular a economia. Chamaram a essa campanha de quantitative easing QE
(tradução livre *facilidade de quantidade*).
O objectivo, segundo
os promotores – a FED, de Bernanke – era o de lançar, na economia, estímulos
monetários para que servisse o desenvolvimento empresarial, com a criação
segura de emprego e incrementasse a produção interna (agro-industrial,
industrial e tecnológica).
Ao mesmo tempo, evitar
a subida de impostos e evitar a restrições nos acessos às prestações sociais.
Foram três os QE
lançados desde 2009 pela FED, que atingiram os quatro biliões de dólares do
erário público.
Os resultados para a
economia real onde estão?
Retiramos, através de
um artigo inserido do jornal português Expresso, que recorreu a um texto
inserido, em Novembro, no “Wall Street Journal”, com o título de “Confessions
of a Quantitative Easer”, cujo autor
Andrew Huszar foi um dos responsáveis desses estímulos no interior da FED.
Segundo Huszar, os
quatro biliões de dólares tiveram apenas um efeito multiplicador de apenas 40
mil milhões de dólares de aumento do PIB.
Di-lo o agora
académico Huszar: os beneficiários foram os bancos.
Cita-se: “os bancos
norte-americanos viram o seu valor em bolsa triplicar desde Março de 2009 e
apenas 0,2 % deles controlam mais de 70 % dos activos bancários – cartel”.
5 – Colocando de lado
as divergências e questiúnculas no interior das instâncias dirigentes
capitalistas norte-americanas, e centremo-nos na razões de fundo que enquadram
estas revelações, retiramos que a crise está a ultrapassar os principais
dirigentes do sistema financeiro mundial.
(Perante a dimensão da
crise, o sector dominante de Wall Street, ligado ao lobby judaico, procura
reforçar, desde já, a sua penetração nos meandros dos negócios especulativos
dos EUA, colocando dois dos seus no topo da FED: Janet Yellen, que substituirá
Bernamke na Presidência em Fevereiro próximo e em número dois Stanley Fischer,
que ocupou o cargo de governador do Banco Central de Israel entre 2005 e 2013).
Desde 2008, o selecto
grupo do G-8 (EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália, Canadá e
Rússia), que era o “centro geo-estratégico financeiro e militar da altura-1975,
onde se debatiam e harmonizava, de acordo com os seus interesses, as relações económicas,
comerciais e militares").
Devido às sucessivas
crises mundiais ou regionais de envergadura, iniciadas já na década de 80 do
século XX, e porque surgiam países e Nações com novas capacidades económicas e
militares que fugiam ao estrito controlo dos seleccionados, claro que contra a
sua vontade tiveram de alargar o grupo em 1999.
Chamaram-lhe g-20, que
enquadrava uma nova realidade, a União Europeia, a mais importante, mas também
um conjunto de BRICS – os emergentes, como a China, a Índia, Brasil, África do
Sul, e os parceiros em crescimento que com eles podem fazer parcerias, como a
Argentina, ou interligação com outros como a Coreia do Sul, México, Canadá,
Austrália, Indonésia, Arábia e Turquia.
Com a crise de 2008,
e, sob a perspectiva de um descalabro do próprio capitalismo internacional, a
25 de Setembro de 2009, os seus representantes políticos intitularam o g-20
como “o novo conselho internacional permanente de cooperação económica”.
O objectivo desta
concertação de países, aparentemente divergentes, teve um único propósito –
controlar as possíveis explosões sociais, procurando, no mínimo, atrasar o que
eles sabem ser inevitável, e, defender e resguardar as principais instituições
financeiras e bancárias.
Foi então organizada,
a nível planetário, a maior manipulação propagandística para colocar
em prática aqueles propósitos: dizer que os povos viviam acima das suas
possibilidades e que era necessário implantar uma austeridade forçada e
permanente para colocar, novamente, a economia nos carris.
Tal como foi uma
operação concertada para salvar o actual lumpen sistema financeiro
internacional, era – é – um sintoma de que os principais dirigentes dirigentes
do sistema estão ultrapassados.
Tiveram de se socorrer
de – logo admitir – uma nova dinâmica geopolítica e geoeconómica, o que
significa que estamos, por assim dizer – numa nova fase em desenvolvimento de
uma nova definição geopolítica, que quer queiramos, quer não, se irá estender,
em breve, ao próprio Irão.
Esta dezena de anos
trouxe, por um lado, uma transformação radical da economia, com uma
desarticulação de todos os centros de poder, mas também de busca de novos
modelos de intercâmbio cambial, onde o dólar perdeu confiança e forças política
e militar para se impor como padrão único, por outro, um afastamento enorme e
evidente dos povos das balelas da democracia, buscando antes – ainda que
indecisiva e titubeantemente – alternativas, que cada vez mais se encaminham
para rupturas políticas.
No meio de uma
tentativa mundial de forçar uma ditadura organizada do grande capital
financeiro, enrolado nas suas contradições, farejando uma saída por um novo
tipo de nazi-fascismo político, sob uma pretensa representação parlamentar,
existem luzes ao fundo do túnel que tentam relançar as probabilidades de se
construir uma nova sociedade mais humana e igualitária.
Os próximos anos dir-nos-ão
a nova arquitectura da geopolítica mundial.
Sem comentários:
Enviar um comentário